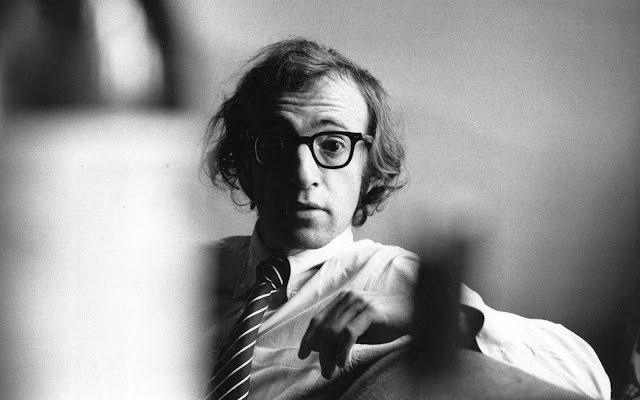Adoecer, Hélia Correia, Relógio D’Água, 303 págs., 15.14€
Fulgurante «encontro pessoal» da escritora com uma personagem histórica e uma história de amor. A modelo, pintora e poeta Elizabeth Siddal e os pré-rafaelitas, na Inglaterra do séc. XIX, renascem neste romance biográfico sensível.
Uma Viagem à Índia, Gonçalo M. Tavares, Caminho, 484 págs., 25€
Ambiciosíssimo romance-poema para a viagem iniciática de uma personagem, Bloom, «um individualista do século XXI», à procura de novas índias. Consagra em definitivo o talento de um autor português já internacionalizado.
O Livro da Consciência, António Damásio, Temas e Debates/Círculo de Leitores, 437 págs., 23.90€
O neurocientista António Damásio quis «começar de novo» as suas investigações sobre cérebro e consciência. Esta é a actualização de uma viagem revolucionária até à mente, ao «eu», às emoções e sentimentos, à arte e à ciência.
História da Vida Privada em Portugal: A Idade Média, Bernardo Vasconcelos e Sousa (coord.), Círculo de Leitores, 512 págs., 33.30€
Primeiro volume da primeira sistematização e síntese da história da nossa vida privada. Dirigido por José Mattoso, o projecto reúne quarenta colaboradores a espreitar pelo buraco das fechaduras dos portugueses da Idade Média até hoje.
Peregrinação de Emmanuel Jhesus, Pedro Rosa Mendes, Dom Quixote, 346 págs., 17.06€
Como na estreia, Baía dos Tigres, o escritor e jornalista usa o romance como observatório humano e histórico de matriz indefinível. Desta vez, é Timor, em 1999, fusão de caos e mitos, denunciada no insólito destino de uma personagem.
Verso e Prosa, Mário de Sá-Carneiro, Assírio & Alvim, 669 págs., 28.01€
Com edição de Fernando Cabral Martins, eis «o que de mais marcante» criou um dos maiores renovadores da poesia portuguesa do séc. XX. Mário de Sá-Carneiro, entre simbolismo e vanguarda, a «viajar outros sentidos, outras vidas».
O Olho de Hertzog, João Paulo Borges Coelho, Leya, 442 págs., 15.14€
Prémio Leya 2009 e sexto romance do escritor moçambicano, segue um oficial alemão em Moçambique, no rescaldo da Primeira Guerra. A trama, complexa, une referências históricas reais a uma sólida construção ficcional e de personagens.
Clarice Lispector, Uma Vida, Benjamin Moser, Civilização, 626 págs., 20.99€
Primeira tentativa conseguida de descrever o mistério de «uma mulher indescritível»: a esfíngica e lendária Clarice. A biografia de Benjamin Moser revela em privado e redimensiona uma portentosa autora em língua portuguesa
Parrot & Olivier, Peter Carey, Gradiva, 488 págs., 25€
Recriação livre do contacto de Alexis de Tocqueville com a América, no início do séc. XIX. Olivier, o aristocrata, e Parrot, o criado, são os narradores inesquecíveis desta obra-prima de técnica e humor sobre a essência da democracia.
Um Repentino Pensamento Libertador, Kjell Askildsen, Ahab, 223 págs., 16.95€
Nestes treze contos de um dos maiores escritores nórdicos contemporâneos, exibe-se uma escrita descarnada e uma enorme sabedoria emocional. Através da solidão crua das personagens, o norueguês Askildsen comove e perturba o leitor.
As Aventuras de Augie March, Saul Bellow, Quetzal, 27.99€
A irrepreensível tradução de Salvato Telles de Menezes destaca a musicalidade e o vigor de uma das obras fundamentais do Nobel da Literatura de 1976. Augie March cresce na sombria Chicago da Grande Depressão. O leitor cresce com ele.
Wolf Hall, Hilary Mantel, Civilização, 658 págs., 22.41€
Booker Prize em 2009, oferece uma monumental e inovadora abordagem ao reinado de Henrique VIII a partir da personalidade e biografia do advogado Thomas Cromwell. Pura inventividade e génio ao serviço do romance histórico.
Correcções, Jonathan Franzen, Dom Quixote, 512 págs., 19.90€
National Book Award 2001, prenunciou a actual aclamação de Franzen como «o grande romancista americano». Esta crónica satírica e realista de uma família dos anos 90, os Lambert, é um hino à ficção de grande fôlego e incidência social.
O Complexo de Portnoy, Philip Roth, Dom Quixote, 272 págs., 16.15€
Saiu há 41 anos e ainda é capaz de chocar. Em nova tradução (a última era dos anos 80), o romance que lançou Philip Roth é um tratado delirantemente cómico e provocador sobre a emancipação familiar e sexual de um judeu americanizado.
Uma Antologia da Poesia Chinesa, Gil de Carvalho, Assírio & Alvim, 438 págs., 22€
Nasceu do esforço do poeta antologiador e tradutor Gil de Carvalho esta primeira edição portuguesa de um grande conjunto de poesia chinesa. Do Shi Jing, livro de odes de 1000 a.C., até às obras maiores do séc. XVII. Um mundo a descobrir.
A Inquisição-O Reino do Medo, Toby Green, Presença, 511 págs., 22.11€
Um investigador inglês com origens sefarditas traça o quadro mais abrangente e acessível da Inquisição ibérica e nas colónias durante três séculos. A detalhada exposição de casos ilumina a extensão dos mecanismos da «pedagogia do medo».
O Sonho do Celta, Mario Vargas Llosa, Quetzal, 438 págs., 18.95€
No novo romance do Nobel da Literatura 2010, renasce a aventurosa e lendária vida do irlandês Roger Casement, cônsul britânico no Congo belga no início do séc. XX, amigo de Joseph Conrad. Sob o signo da defesa dos direitos humanos.
Solar, Ian McEwan, Gradiva, 335 págs., 16.15€
Em esplêndida forma técnica, McEwan explora «o que há de cómico no idealismo», quer este se aplique ao ambiente global ou à vida pessoal. Os falhanços do físico Michael Beard e da sua saga ecológica parodiam a actualidade.
© Filipa Melo (interdita reprodução integral sem autorização prévia)